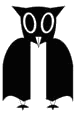Chauí: PiG (partido da imprensa golpista *) produz culpas e condena sumariamente
Publicado em 30/08/2012
Leia a antológica palestra de Marilena Chauí.
Num evento em defesa da liberdade de expressão e por uma Ley de Medios,
realizado no Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, nessa segunda feira, a
professora Marilena Chauí fez uma palestra antológica.
I. Democracia e autoritarismo social
Estamos acostumados a aceitar a definição liberal da democracia como regime da
lei e da ordem para a garantia das liberdades individuais. Visto que o
pensamento e a prática liberais identificam a liberdade com a ausência de
obstáculos à competição, essa definição da democracia significa, em primeiro
lugar, que a liberdade se reduz à competição econômica da chamada “livre
iniciativa” e à competição política entre partidos que disputam eleições; em
segundo, que embora a democracia apareça justificada como “valor” ou como
“bem”, é encarada, de fato, pelo critério da eficácia, medida no plano do poder
executivo pela atividade de uma elite de técnicos competentes aos quais cabe a
direção do Estado. A democracia é, assim, reduzida a um regime político eficaz,
baseado na idéia de cidadania organizada em partidos políticos, e se manifesta
no processo eleitoral de escolha dos representantes, na rotatividade dos
governantes e nas soluções técnicas para os problemas econômicos e sociais.
Ora, há, na prática democrática e nas idéias democráticas, uma profundidade e
uma verdade muito maiores e superiores ao que liberalismo percebe e deixa
perceber.
Podemos, em traços breves e gerais, caracterizar a democracia ultrapassando a
simples idéia de um regime político identificado à forma do governo, tomando-a
como forma geral de uma sociedade e, assim, considerá-la:
1. forma sócio-política definida pelo princípio da isonomia ( igualdade dos
cidadãos perante a lei) e da isegoria (direito de todos para expor
em público suas opiniões, vê-las
discutidas, aceitas ou recusadas em público), tendo como base a afirmação de
que todos são iguais porque livres, isto é, ninguém está sob o poder de um
outro porque todos obedecem às mesmas leis das quais todos são autores (autores
diretamente, numa democracia participativa; indiretamente, numa democracia
representativa). Donde o maior problema da democracia numa sociedade de classes
ser o da manutenção de seus princípios – igualdade e liberdade – sob os efeitos
da desigualdade real;
2. forma política na qual, ao contrário de todas as outras, o conflito é
considerado legítimo e necessário, buscando mediações institucionais para que
possa exprimir-se. A democracia não é o regime do consenso, mas do trabalho dos
e sobre os conflitos. Donde uma outra dificuldade democrática nas sociedades de
classes: como operar com os conflitos quando estes possuem a forma da
contradição e não a da mera oposição?
3. forma sócio-política que busca enfrentar as dificuldades acima apontadas
conciliando o princípio da igualdade e da liberdade e a existência real das
desigualdades, bem como o princípio da legitimidade do conflito e a existência
de contradições materiais introduzindo, para isso, a idéia dos direitos (
econômicos, sociais, políticos e culturais). Graças aos direitos, os desiguais
conquistam a igualdade, entrando no espaço político para reivindicar a
participação nos direitos existentes e sobretudo para criar novos direitos.
Estes são novos não simplesmente porque não existiam anteriormente, mas porque
são diferentes daqueles que existem, uma vez que fazem surgir, como cidadãos,
novos sujeitos políticos que os afirmaram e os fizeram ser reconhecidos por
toda a sociedade.
4. graças à idéia e à prática da criação de direitos, a democracia não define a
liberdade apenas pela ausência de obstáculos externos à ação, mas a define pela
autonomia, isto é, pela capacidade dos sujeitos sociais e políticos darem a si
mesmos suas próprias normas e regras de ação. Passa-se, portanto, de uma
definição negativa da liberdade – o não obstáculo ou o não-constrangimento
externo – a uma definição positiva – dar a si mesmo suas regras e normas de
ação. A liberdade possibilita aos cidadãos instituir contra-poderes sociais por
meio dos quais interferem diretamente no poder por meio de reivindicações e
controle das ações estatais.
5. pela criação dos direitos, a democracia surge como o único regime político
realmente aberto às mudanças temporais, uma vez que faz surgir o novo como
parte de sua existência e, conseqüentemente, a temporalidade é constitutiva de
seu modo de ser, de maneira que a democracia é a sociedade verdadeiramente
histórica, isto é, aberta ao tempo, ao possível, às transformações e ao novo.
Com efeito, pela criação de novos direitos e pela existência dos contra-poderes
sociais, a sociedade democrática não está fixada numa forma para sempre
determinada, pois não cessa de trabalhar suas divisões e diferenças internas,
de orientar-se pela possibilidade objetiva de alterar-se pela própria práxis;
6. única forma sócio-política na qual o caráter popular do poder e das lutas
tende a evidenciar-se nas sociedades de classes, na medida em que os direitos
só ampliam seu alcance ou só surgem como novos pela ação das classes populares
contra a cristalização jurídico-política que favorece a classe dominante. Em
outras palavras, a marca da democracia moderna, permitindo sua passagem de
democracia liberal á democracia social, encontra-se no fato de que somente as
classes populares e os excluídos (as “minorias”) reivindicam direitos e criam
novos direitos;
7. forma política na qual a distinção entre o poder e o governante é garantida
não só pela presença de leis e pela divisão de várias esferas de autoridade,
mas também pela existência das eleições, pois estas ( contrariamente do que
afirma a ciência política) não significam
mera “alternância no poder”, mas assinalam que o poder está sempre
vazio, que seu detentor é a sociedade e que o governante apenas o ocupa por
haver recebido um mandato temporário para isto. Em outras palavras, os sujeitos
políticos não são simples votantes, mas eleitores. Eleger significa não só
exercer o poder, mas manifestar a origem do poder, repondo o princípio afirmado
pelos romanos quando inventaram a política: eleger é “dar a alguém aquilo que
se possui, porque ninguém pode dar o que não tem”, isto é, eleger é afirmar-se
soberano para escolher ocupantes temporários do governo.
Dizemos, então, que uma sociedade — e não um simples regime de governo — é
democrática quando, além de eleições, partidos políticos, divisão dos três
poderes da república, respeito à vontade da maioria e da minoria, institui algo
mais profundo, que é condição do próprio regime político, ou seja, quando
institui direitos e que essa instituição é uma criação social, de tal maneira
que a atividade democrática social realiza-se como uma contra-poder social que
determina, dirige, controla e modifica a ação estatal e o poder dos
governantes.
Se esses são os principais traços da sociedade democrática, podemos avaliar as
enormes dificuldades para instituir a democracia no Brasil. De fato, a
sociedade brasileira é estruturalmente violenta, hierárquica, vertical,
autoritária e oligárquica e o Estado é patrimonialista e cartorial, organizado
segundo a lógica clientelista e burocrática. O clientelismo bloqueia a prática
democrática da representação
— o
representante não é visto como portador de um mandato dos representados, mas
como provedor de favores aos eleitores. A burocracia bloqueia a democratização
do Estado porque não é uma organização do trabalho e sim uma forma de poder
fundada em três princípios opostos aos democráticos: a hierarquia, oposta à
igualdade; o segredo, oposto ao direito à informação; e a rotina de
procedimentos, oposta à abertura temporal da ação política.
Além disso, social e economicamente nossa sociedade está polarizada entre a
carência absoluta das camadas populares e o privilégio absoluto das camadas
dominantes e dirigentes, bloqueando a instituição e a consolidação da
democracia. Um privilégio é, por definição, algo particular que não pode
generalizar-se nem universalizar-se sem deixar de ser privilégio. Uma carência
é uma falta também particular ou específica que se exprime numa demanda também
particular ou específica, não conseguindo generalizar-se nem universalizar-se.
Um direito, ao contrário de carências e privilégios, não é particular e
específico, mas geral e universal,
seja porque é o mesmo e válido para todos os indivíduos, grupos e
classes sociais, seja porque embora diferenciado é reconhecido por todos (como
é caso dos chamados direitos das minorias). Assim, a polarização
econômico-social entre a carência e o privilégio ergue-se como obstáculo à
instituição de direitos, definidora da democracia.
A esses obstáculos, podemos acrescentar ainda aquele decorrente do
neoliberalismo, qual seja o encolhimento do espaço público e o alargamento do
espaço privado. Economicamente, trata-se da
eliminação de direitos econômicos, sociais e políticos
garantidos pelo poder público, em proveito dos interesses privados da classe
dominante, isto é, em proveito do
capital; a economia e a política neoliberais são a decisão de destinar
os fundos públicos aos investimentos do capital e de cortar os investimentos
públicos destinados aos direitos sociais, transformando-os em serviços
definidos pela lógica do mercado, isto é, a privatização dos direitos
transformados em serviços, privatização que aumenta a cisão social entre a
carência e o privilégio, aumentando todas formas de exclusão. Politicamente o
encolhimento do público e o alargamento do privado colocam em evidência o
bloqueio a um direito democrático fundamental sem o qual a cidadania, entendida
como participação social, política e cultural é impossível, qual seja, o
direito à informação.
II. Os meios de comunicação como
exercício de poder
Podemos focalizar o exercício do poder pelos meios de comunicação de massa sob
dois aspectos principais: o econômico e o ideológico.
Do ponto de vista econômico, os meios de comunicação fazem parte da indústria
cultural. Indústria porque são empresas privadas operando no mercado e que,
hoje, sob a ação da chamada globalização, passa por profundas mudanças
estruturais, “num processo nunca visto de fusões e aquisições, companhias
globais ganharam posições de domínio na mídia.”, como diz o jornalista Caio
Túlio Costa. Além da forte concentração (os oligopólios beiram o monopólio),
também é significativa a presença, no setor das comunicações, de empresas que
não tinham vínculos com ele nem tradição nessa área. O porte dos investimentos
e a perspectiva de lucros jamais vistos levaram grupos proprietários de bancos,
indústria metalúrgica, indústria elétrica e eletrônica, fabricantes de
armamentos e aviões de combate, indústria de telecomunicações a adquirir, mundo
afora, jornais, revistas, serviços de telefonia, rádios e televisões, portais
de internet, satélites, etc..
No caso do Brasil, o poderio econômico dos meios é inseparável da forma
oligárquica do poder do Estado, produzindo um dos fenômenos mais contrários à
democracia, qual seja, o que Alberto Dines chamou de “coronelismo eletrônico”,
isto é, a forma privatizada das concessões públicas de canais de rádio e
televisão, concedidos a parlamentares e lobbies privados, de tal maneira que
aqueles que deveriam fiscalizar as concessões públicas se tornam
concessionários privados, apropriando-se de um bem público para manter
privilégios, monopolizando a comunicação e a informação. Esse privilégio é um
poder político que se ergue contra dois direitos democráticos essenciais: a
isonomia (a igualdade perante a lei) e a isegoria (o direito à palavra ou o
igual direito de todos de expressar-se em público e ter suas opiniões
publicamente discutidas e avaliadas). Numa palavra, a cidadania democrática
exige que os cidadãos estejam informados para que possam opinar e intervir
politicamente e isso lhes é roubado pelo poder econômico dos meios de
comunicação.
A isonomia e a isegoria são também ameaçadas e destruídas pelo poder ideológico
dos meios de comunicação. De fato, do ponto de vista ideológico, a mídia exerce
o poder sob a forma do denominamos a ideologia da competência, cuja
peculiaridade está em seu modo de aparecer sob a forma anônima e impessoal do
discurso do conhecimento, e cuja eficácia social, política e cultural está
fundada na crença na racionalidade técnico-científica.
A ideologia da competência pode ser resumida da seguinte maneira: não é
qualquer um que pode em qualquer lugar e em qualquer ocasião dizer qualquer
coisa a qualquer outro. O discurso competente determina de antemão quem tem o
direito de falar e quem deve ouvir, assim como pré-determina os lugares e as
circunstâncias em que é permitido falar e ouvir, e define previamente a forma e
o conteúdo do que deve ser dito e precisa ser ouvido. Essas distinções têm como
fundamento uma distinção principal, aquela que divide socialmente os detentores
de um saber ou de um conhecimento (científico, técnico, religioso, político,
artístico), que podem falar e têm o direito de mandar e comandar, e os
desprovidos de saber, que devem ouvir e obedecer. Numa palavra, a ideologia da
competência institui a divisão social entre os competentes, que sabem e por
isso mandam, e os incompetentes, que não sabem e por isso obedecem.
Enquanto discurso do conhecimento, essa ideologia opera com a figura do
especialista. Os meios de comunicação não só se alimentam dessa figura, mas não
cessam de institui-la como sujeito da comunicação. O especialista competente é
aquele que, no rádio, na TV, na revista, no jornal ou no multimídia, divulga
saberes, falando das últimas descobertas da ciência ou nos ensinando a agir,
pensar, sentir e viver. O especialista competente nos ensina a bem fazer sexo,
jardinagem, culinária, educação das crianças, decoração da casa, boas maneiras,
uso de roupas apropriadas em horas e locais apropriados, como amar Jesus e
ganhar o céu, meditação espiritual, como ter um corpo juvenil e saudável, como
ganhar dinheiro e subir na vida.
O
principal especialista, porém, não se confunde com nenhum dos anteriores, mas é
uma espécie de síntese, construída a partir das figuras precedentes: é aquele
que explica e interpreta as notícias e os acontecimentos econômicos, sociais,
políticos, culturais, religiosos e esportivos, aquele que devassa, eleva e
rebaixa entrevistados, zomba, premia e pune calouros
— em suma, o chamado “formador de opinião” e o
“comunicador”.
Ideologicamente, o poder da comunicação de massa não é um simples inculcação de
valores e idéias, pois, dizendo-nos o que devemos pensar, sentir, falar e
fazer, o especialista, o formador de opinião e o comunicados nos dizem que nada
sabemos e por isso seu poder se realiza como manipulação e intimidação social e
cultural.
Um dos aspectos mais terríveis desse duplo poder dos meios de comunicação se
manifesta nos procedimentos midiáticos de produção da culpa e condenação
sumária dos indivíduos, por meio de um instrumento psicológico profundo: a
suspeição, que pressupõe a presunção de culpa. Ao se referir ao período do
Terror, durante a Revolução Francesa,
Hegel considerou que uma de suas marcas essenciais é afirmar que, por
princípio, todos são suspeitos e que os suspeitos são culpados antes de
qualquer prova. Ao praticar o terror, a mídia fere dois direitos
constitucionais democráticos, instituídos pela Declaração dos Direitos do Homem
e do Cidadão, de 1789 (Revolução Francesa) e pela Declaração Universal dos
Direitos Humanos, de 1948, quais sejam: a presunção de inocência (ninguém pode
ser considerado culpado antes da prova da culpa) e a retratação pública dos
atingidos por danos físicos, psíquicos e morais, isto é, atingidos pela
infâmia, pela injúria e pela calúnia. É para assegurar esses dois direitos que
as sociedades democráticas exigem leis para regulação dos meios de comunicação,
pois essa regulação é condição da liberdade e da igualdade que definem a
sociedade democrática.
III.
Faz parte da vida da grande maioria da população brasileira ser espectadora de
um tipo de programa de televisão no qual a intimidade das pessoas é o objeto
central do espetáculo: programas de auditório, de entrevistas e de debates com
adultos, jovens e crianças contando suas preferências pessoais desde o sexo até
o brinquedo, da culinária ao vestuário, da leitura à religiosidade, do ato de
escrever ou encenar uma peça teatral, de compor uma música ou um balé até os
hábitos de lazer e cuidados corporais.
As ondas sonoras do rádio e as transmissões televisivas tornam-se cada vez mais
consultórios sentimental, sexual, gastronômico, geriátrico, ginecológico,
culinário, de cuidados com o corpo (ginástica, cosméticos, vestuário,
medicamentos), de jardinagem, carpintaria, bastidores da criação artística,
literária e da vida doméstica. Há programas de entrevista no rádio e na
televisão que ou simulam uma cena doméstica – um almoço, um jantar – ou se
realizam nas casas dos entrevistados durante o café da manhã, o almoço ou o
jantar, nos quais a casa é exibida, os hábitos cotidianos são descritos e
comentados, álbuns de família ou a própria são mostrados ao vivo e em cores. Os
entrevistados e debatedores, os competidores dos torneios de auditório, os que
aparecem nos noticiários, todos são convidados e mesmo instados com vigor a que
falem de suas preferências, indo desde sabores de sorvete até partidos
políticos, desde livros e filmes até hábitos sociais. Não é casual que os
noticiários, no rádio e na televisão, ao promoverem entrevistas em que a
notícia é intercalada com a fala dos direta ou indiretamente envolvidos no
fato, tenham sempre repórteres indagando a alguém: “o que você sentiu/sente com
isso?” ou “o que você achou/acha disso?” ou “você gosta? não gosta disso?”. Não
se pergunta aos entrevistados o que pensam ou o que julgam dos acontecimentos,
mas o que sentem, o que acham, se lhes agrada ou desagrada.
Também tornou-se um hábito nacional jornais e revistas especializarem-se cada
vez mais em telefonemas a “personalidades” indagando-lhes sobre o que estão
lendo no momento, que filme foram ver na última semana, que roupa usam para
dormir, qual a lembrança infantil mais querida que guardam na memória, que
música preferiam aos 15 anos de idade, o que sentiram diante de uma catástrofe
nuclear ou ecológica, ou diante de um genocídio ou de um resultado eleitoral,
qual o sabor do sorvete preferido, qual o restaurante predileto, qual o perfume
desejado. Os assuntos se equivalem, todos são questão de gosto ou preferência,
todos se reduzem à igual banalidade do “gosto” ou “não gosto”, do “achei ótimo”
ou “achei horrível”.
Todos esses fatos nos conduzem a uma conclusão: a mídia está imersa na cultura
do narcisismo.
Como observa Christopher Lash, em A Cultura do Narcisismo, os mass media
tornaram irrelevantes as categorias da verdade e da falsidade substituindo-as
pelas noções de credibilidade ou plausibilidade e confiabilidade – para que
algo seja aceito como real basta que apareça como crível ou plausível, ou como
oferecido por alguém confiável Os fatos cedem lugar a declarações de
“personalidades autorizadas”, que não transmitem informações, mas preferências
e estas se convertem imediatamente em propaganda. Como escreve Lash, “sabendo
que um público cultivado é ávido por fatos e cultiva a ilusão de estar bem
informado, o propagandista moderno evita slogans grandiloqüentes e se atém a
‘fatos’, dando a ilusão de que a propaganda é informação”.
Qual a base de apoio da credibilidade e da confiabilidade? A resposta
encontra-se num outro ponto comum aos programas de auditório, às entrevistas,
aos debates, às indagações telefônicas de rádios, revistas e jornais, aos
comerciais de propaganda. Trata-se do apelo à intimidade, à personalidade, à
vida privada como suporte e garantia da ordem pública. Em outras palavras, os
códigos da vida pública passam a ser determinados e definidos pelos códigos da
vida privada, abolindo-se a diferença entre espaço público e espaço privado.
Assim, as relações interpessoais, as relações intersubjetivas e as relações
grupais aparecem com a função de ocultar ou de dissimular as relações sociais
enquanto sociais e as relações políticas enquanto políticas, uma vez que a
marca das relações sociais e políticas é serem determinadas pelas instituições
sociais e políticas, ou seja, são relações mediatas, diferentemente das
relações pessoais, que são imediatas, isto é, definidas pelo relacionamento
direto entre pessoas e por isso mesmo nelas os sentimentos, as emoções, as
preferências e os gostos têm um papel decisivo. As relações sociais e
políticas, que são mediações referentes a interesses e a direitos regulados
pelas instituições, pela divisão social das classes e pela separação entre o
social e o poder político, perdem sua especificidade e passam a operar sob a
aparência da vida privada, portanto, referidas a preferências, sentimentos,
emoções, gostos, agrado e aversão.
Não é casual, mas uma conseqüência necessária dessa privatização do social e do
político, a destruição de uma categoria essencial das democracias, qual seja a
da opinião pública. Esta, em seus inícios (desde a Revolução Francesa de 1789),
era definida como a expressão, no espaço público, de uma reflexão individual ou
coletiva sobre uma questão controvertida e concernente ao interesse ou ao
direito de uma classe social, de um grupo ou mesmo da maioria. A opinião
pública era um juízo emitido em público sobre uma questão relativa à vida
política, era uma reflexão feita em público e por isso definia-se como uso
público da razão e como direito à liberdade de pensamento e de expressão.
É sintomático que, hoje, se fale em “sondagem de opinião”. Com efeito, a
palavra sondagem indica que não se procura a expressão pública racional de
interesses ou direitos e sim que se vai buscar um fundo silencioso, um fundo
não formulado e não refletido, isto é, que se procura fazer vir à tona o
não-pensado, que existe sob a forma de sentimentos e emoções, de preferências,
gostos, aversões e predileções, como se os fatos e os acontecimentos da vida
social e política pudessem vir a se exprimir pelos sentimentos pessoais. Em
lugar de opinião pública, tem-se a manifestação pública de sentimentos.
Nada mais constrangedor e, ao mesmo tempo, nada mais esclarecedor do que os
instantes em que o noticiário coloca nas ondas sonoras ou na tela os
participantes de um acontecimento falando de seus sentimentos, enquanto
locutores explicam e interpretam o que se passa, como se os participantes
fossem incapazes de pensar e de emitir juízo sobre aquilo de que foram
testemunhas diretas e partes envolvidas. Constrangedor, porque o rádio e a
televisão declaram tacitamente a incompetência dos participantes e envolvidos
para compreender e explicar fatos e acontecimentos de que são protagonistas. Esclarecedor,
porque esse procedimento permite, no instante mesmo em que se dão, criar a
versão do fato e do acontecimento como se fossem o próprio fato e o próprio
acontecimento. Assim, uma partilha é claramente estabelecida: os participantes
“sentem”, portanto, não sabem nem compreendem (não pensam); em contrapartida, o
locutor pensa, portanto, sabe e, graças ao seu saber, explica o acontecimento.
É possível perceber três deslocamentos sofridos pela idéia e prática da opinião
pública: o primeiro, como salientamos, é a substituição da idéia de uso público
da razão para exprimir interesses e direitos de um indivíduo, um grupo ou uma
classe social pela idéia de expressão em público de sentimentos, emoções,
gostos e preferências individuais; o segundo, como também observamos, é a
substituição do direito de cada um e de todos de opinar em público pelo poder
de alguns para exercer esse direito, surgindo, assim, a curiosa expressão
“formador de opinião”, aplicada a intelectuais, artistas e jornalistas; o
terceiro, que ainda não havíamos mencionado, decorre de uma mudança na relação
entre s vários meios de comunicação sob os efeitos das tecnologias eletrônica e
digital e da formação de oligopólios midiáticos globalizados (alguns autores
afirmam que o século XXI começou com a existência de 10 ou 12 conglomerados de
mass media de alcance global). Esse terceiro deslocamento se refere à forma de
ocupação do espaço da opinião pública pelos profissionais dos meios de
comunicação. Esses deslocamentos explicam algo curioso, ocorrido durante as
sondagens de intenção de voto nas eleições presidenciais de 2006: diante dos
resultados, uma jornalista do jornal O Globo
escreveu que o povo estava contra a opinião pública!
O caso mais interessante é, sem dúvida, o do jornalismo impresso. Em tempos
passados, cabia aos jornais a tarefa noticiosa e um jornal era fundamentalmente
um órgão de notícias. Sem dúvida, um jornal possuía opiniões e as exprimia:
isso era feito, de um lado, pelos editorais e por artigos de não-jornalistas,
e, de outro, pelo modo de apresentação da notícia (escolha das manchetes e do
“olho”, determinação da página em que deveria aparecer e na vizinhança de quais
outras, do tamanho do texto, da presença ou ausência de fotos, etc.). Ora, com
os meios eletrônicos e digitais e a televisão, os fatos tendem a ser noticiados
enquanto estão ocorrendo, de maneira que a função noticiosa do jornal é
prejudicada, pois a notícia impressa é posterior à sua transmissão pelos meios
eletrônicos e pela televisão. Ou na linguagem mais costumeira dos meios de
comunicação: no mercado de notícias, o jornalismo impresso vem perdendo
competitividade (alguns chamam a isso de progresso; outros, de racionalidade
inexorável do mercado!).
O resultado dessa situação foi duplo: de um lado, a notícia é apresentada de
forma mínima, rápida e, freqüentemente, inexata – o modelo conhecido como News
Letter – e, de outro, deu-se a passagem gradual do jornal como órgão de
notícias a órgão de opinião, ou seja, os jornalistas comentam e interpretam as
notícias, opinando sobre elas. Gradualmente desaparece uma figura essencial do
jornalismo: o jornalismo investigativo, que cede lugar ao jornalismo assertivo
ou opinativo. Os jornalista passam, assim, o ocupar o lugar que,
tradicionalmente, cabia a grupos e classes sociais e a partidos políticos e,
além disso, sua opinião não fica restrita ao meio impresso, mas passa a servir
como material para os noticiários de rádio e televisão, ou seja, nesses
noticiários, a notícia é interpretada e avaliada graças à referência às colunas
dos jornais.
Os deslocamentos mencionados e, particularmente, este último, têm conseqüências
graves sob dois aspectos principais:
1) uma vez que o jornalista concentra poderes e forma a opinião pública, pode
sentir-se tentado a ir além disso e criar a própria realidade, isto é, sua
opinião passa a ter o valor de um fato e a ser tomada como um acontecimento
real ;
2) os efeitos da concentração do poder econômico midiático. Os meios de
comunicação tradicionais (jornal, rádio, cinema, televisão) sempre foram
propriedade privada de indivíduos e grupos, não podendo deixar de exprimir seus
interesses particulares ou privados, ainda que isso sempre tenha imposto
problemas e limitações à liberdade de expressão, que fundamenta a idéia de
opinião pública. Hoje, porém, os
conglomerados de alcance global controlam não só os meios tradicionais,
mas também os novos meios eletrônicos e digitais, e avaliam em termos de
custo-benefício as vantagens e desvantagens do jornalismo escrito ou da
imprensa, podendo liquidá-la, se não acompanhar os ares do tempo.
Esses dois aspectos incidem diretamente sobre a transformação da verdade e da
falsidade em questão de credibilidade e
plausibilidade.
Rápido,
barato, inexato, partidarista, mescla de informações aleatoriamente obtidas e
pouco confiáveis, não investigativo, opinativo ou assertivo, detentor da
credibilidade e da plausibilidade, o jornalismo se tornou protagonista da
destruição da opinião pública.
De fato, a desinformação é o principal resultado da maioria dos noticiários nos
jornais, no rádio e na televisão, pois, de modo geral, as notícias são
apresentadas de maneira a impedir que se possa localizá-la no espaço e no
tempo.
Ausência de referência espacial ou atopia: as diferenças próprias do espaço
percebido (perto, longe, alto, baixo, grande, pequeno) são apagadas; o aparelho
de rádio e a tela da televisão tornam-se o único espaço real. As distâncias e
proximidades, as diferenças geográficas e territoriais são ignoradas, de tal
modo que algo acontecido na China, na Índia, nos Estados Unidos ou em Campina
Grande apareça igualmente próximo e igualmente distante.
Ausência de referência temporal ou acronia: os acontecimentos são relatados
como se não tivessem causas passadas nem efeitos futuros; surgem como pontos
puramente atuais ou presentes, sem continuidade no tempo, sem origem e sem
conseqüências; existem enquanto forem objetos de transmissão e deixam de
existir se não forem transmitidos. Têm a existência de um espetáculo e só
permanecem na consciência dos ouvintes e espectadores enquanto permanecer o
espetáculo de sua transmissão.
Como operam efetivamente os noticiários?
Em primeiro lugar, estabelecem diferenças no conteúdo e na forma das notícias
de acordo com o horário da transmissão e o público, rumando para o
sensacionalismo e o popularesco nos noticiários diurnos e do início da noite e
buscando sofisticação e aumento de fatos nos noticiários de fim de noite. Em
segundo, por seleção das notícias, omitindo aquelas que possam desagradar o
patrocinador ou os poderes estabelecidos. Em terceiro, pela construção
deliberada e sistemática de uma ordem apaziguadora: em seqüência, apresentam,
no início, notícias locais, com ênfase nas ocorrências policiais, sinalizando o
sentimento de perigo; a seguir, entram as notícias regionais, com ênfase em
crises e conflitos políticos e sociais, sinalizando novamente o perigo; passam
às notícias internacionais, com ênfase em guerras e cataclismos (maremoto,
terremoto, enchentes, furacões), ainda uma vez sinalizando perigo; mas concluem
com as notícias nacionais, enfatizando as idéias de ordem e segurança,
encarregadas de desfazer o medo produzido pelas demais notícias. E, nos finais
de semana, terminam com notícias de eventos artísticos ou sobre animais
(nascimento de um ursinho, fuga e retorno de um animal em cativeiro, proteção a
espécies ameaçadas de extinção), de maneira a produzir o sentimento de
bem-estar no espectador pacificado, sabedor de que, apesar dos pesares, o mundo
vai bem, obrigado.
Paradoxalmente, rádio e televisão podem oferecer-nos o mundo inteiro num
instante, mas o fazem de tal maneira que o mundo real desaparece, restando
apenas retalhos fragmentados de uma realidade desprovida de raiz no espaço e
no
tempo. Como desconhecemos as
determinações econômico-territoriais (geográficas, geopolíticas, etc.) e como
ignoramos os antecedentes temporais e as conseqüências dos fatos
noticiados,
não podemos
compreender seu verdadeiro significado. Essa situação se agrava com a TV a
cabo, com emissoras dedicadas exclusivamente a notícias, durante 24 horas,
colocando num mesmo espaço e num mesmo tempo
(ou seja, na tela) informações de procedência, conteúdo e
significado completamente diferentes, mas que se tornam homogêneas pelo modo de
sua transmissão. O paradoxo está em que há uma verdadeira saturação de
informação, mas, ao fim, nada sabemos, depois de termos tido a ilusão de que
fomos informados sobre tudo.
Se não dispomos de recursos que nos permitam avaliar a realidade e a veracidade
das imagens transmitidas, somos persuadidos de que efetivamente vemos o mundo
quando vemos a TV ou quando navegamos pela internet. Entretanto, como o que
vemos são as imagens escolhidas, selecionadas, editadas, comentadas e
interpretadas pelo transmissor das notícias, então é preciso reconhecer que a
TV é o mundo ou que a internet é o mundo.
A multimídia potencializa o fenômeno da indistinção entre as mensagens e
entre os conteúdos. Como todas as
mensagens estão integradas num mesmo padrão cognitivo e sensorial, uma vez que
educação, notícias e espetáculos são fornecidos pelo mesmo meio, os conteúdos
se misturam e se tornam indiscerníveis. No sistema de comunicação
multimídia
a própria realidade
fica totalmente imersa em uma composição de imagens virtuais num mundo irreal,
no qual as aparências não apenas se encontram na tela comunicadora da
experiência, mas se transformam em experiência. Todas as mensagens de todos os
tipos são incluídas no meio por que fica tão abrangente, tão diversificado, tão
maleável, que absorve no mesmo texto ou no mesmo espaço/tempo toda a
experiência humana, passada, presente e futura, como num ponto único do
universo.
Se, portanto, levarmos em consideração o monopólio da informação pelas empresas
de comunicação de massa, podemos considerar, do ponto de vista da ação
política, as redes sociais como ação democratizadora tanto por quebrar esse
monopólio, assegurando a produção e a circulação livres da informação, como
também por promover acontecimentos políticos de afirmação do direito
democrático à participação. No entanto, os usuários das redes sociais não
possuem autonomia em sua ação e isto sob dois aspectos: em primeiro lugar, não
possuem o domínio tecnológico da ferramenta que empregam e, em segundo, não
detêm qualquer poder sobre a ferramenta empregada, pois este poder é uma
estrutura altamente concentrada, a Internet Protocol, com dez servidores nos
Estados Unidos e dois no Japão, nos quais estão alojados todos os endereços
eletrônicos mundiais, de maneira que, se tais servidores decidirem se desligar,
desaparece toda a internet; além disso, a gerência da internet é feita por uma
empresa norte-americana em articulação com o Departamento de Comércio dos
Estados Unidos, isto é, gere o cadastro da internet mundial. Assim, sob o
aspecto maravilhosamente criativo e anárquico das redes sociais em ação
política ocultam-se o controle e a vigilância sobre seus usuários em escala
planetária, isto é, sobre toda a massa de informação do planeta.
Na perspectiva da democracia, a questão que se coloca, portanto, é saber quem
detêm o controle dessa massa cósmica de informações.
Ou seja, o problema é saber quem tem a gestão de toda a
massa de informações que controla a sociedade, quem utiliza essas informações,
como e para que as utiliza, sobretudo quando se leva em consideração um fato
técnico, que define a operação da informática, qual seja, a concentração e
centralização da informação, pois
tecnicamente, os sistemas informáticos operam em rede, isto é, com a
centralização dos dados e a produção de novos dados pela combinação dos já
coletados.